Por Caio Cavalcanti
O projeto Memórias Marginais visa registrar a memória de profissionais envolvidos de qualquer forma com a produção cinematográfica brasileira e sua história através de entrevistas. Nesse sentido, o objetivo principal do projeto é dar voz ativa aos entrevistados e controle perante o registro, ainda que incompleto, de suas memórias, não os resumindo a objetos de estudo frios e distanciados ou curtas menções acadêmicas.
As transcrições constam na íntegra e prezam pela oralidade e fluidez do discurso.
Agradeço a gentileza de Carlos Ebert, nosso primeiro entrevistado, que abraçou o projeto e se manteve sempre prestativo e interessado.
CAIO CAVALCANTI: Então, eu queria que você começasse contando um pouco como era para você, antes do cinema, como era sua vida antes do cinema chegar assim? Você nasceu no Rio, né?
CARLOS EBERT: Sou carioca, nasci nas Laranjeiras. Tinha feito vestibular, entrado na Faculdade Nacional de Arquitetura, que hoje pertence a Universidade Federal Fluminense, UFF ( na época chamava-se Universidade do Brasil), e tinha entrado. Não entre os primeiros lugares, mas tinha entrado, e minha mãe leu no jornal O Globo que havia sido aberta em São Paulo uma escola superior de cinema. Eu já era fissurado por cinema, era um cinéfilo de pegar ônibus e ir até Petrópolis – viajar duas horas de ônibus, para assistir um filme que estava passando lá em Petrópolis e voltar em seguida. Eu fazia essas coisas. Então, eu era um cinéfilo apaixonado e aí apareceu essa oportunidade de eu estudar cinema. Minha irmã, na época, era casada com um paulistano, morava em São Paulo, então eu tinha onde ficar. Então tudo isso contribuiu. Foi uma conjunção de fatores que me incentivaram a vir para São Paulo para estudar cinema. E eu vim para a escola. Era ali na Avenida Paulista, onde é o Colégio São Luís, tem uma igreja também lá, e era lá a escola de cinema.
Ela foi idealizada e era gerida por um padre jesuíta chamado Padre Lopes. E era…- Eu até cito isso num texto que escrevi há um tempo atrás, a mesma coisa que o Lênin disse lá atrás: “me dê uma criança de oito anos e eu a transformarei num comunista.” Era isso: me de um adolescente de 18 anos, eu o transformarei num cineasta cristão. Então, o objetivo dele no fundo era esse. O cinema estava em pleno desenvolvimento, e ele queria fazer uma escola que formasse cineastas com viés católico-cristão. Mas não deu muito certo, porque na minha turma por exemplo, éramos todos ou agnósticos ou ateus. Então ele não conseguiu converter ninguém. Nos dois primeiros anos eram só humanidades, não tinha nada de cinema, só tinha a história do cinema, que era o grande Paulo Emílio Salles de Gomes que dava.
CC: Os professores na escola São Luiz eram peso-pesado.
EBERT: Eram o [Vilém] Flusser, o Paulo Emílio, [Francisco Luiz de] Almeida Salles, era só gente da pesada. Mas não tinha a prática do cinema. Seria só no terceiro ano – depois que acabassem os dois iniciais que eram de fundamentos, humanidades e tal, que eles prometiam que iam colocar as aulas práticas, cinematografia, linguagem cinematográfica etc.. Mas a gente não tinha essa paciência, né? Éramos muito jovens, a gente não tinha saco de ficar esperando. Então aproveitamos que a escola tinha nos dado a oportunidade de nos conhecermos uns aos outros e fizemos um grupo, né? Nos reuníamos ali no edifício Copan. No apartamento de uma de nossas colegas, a Beatriz, uma argentina mais velha do que a gente, já na casa dos 30 anos. E ela morava lá, num apartamento de um quarto, uma espécie de loft, que ela cedia para as reuniões. Ela participava e tal, e a gente assim montou um grupinho de cinema. Tinha a Ana Carolina, o João Callegaro, o César Lofiego, que era um mexicano… Quem mais? Ah, o Zé Carlos Colaferri, que depois não se dedicou ao cinema, uma menina chamada Merli… Sei lá, deviam ser umas 15, 20 pessoas nesse grupo, e a gente começou a filmar em 8 milímetros. Meio que sorteamos o primeiro filme que a gente iria fazer. Quem estrelava era Ana Carolina, a cineasta, que era uma pessoa de uma timidez assim extrema… Então, o filme é muito gozado. Infelizmente, não sobraram testemunhos físicos desse filme. Não tem sequer um fotograma desse filme. Mas eu me lembro que era uma coisa gozada. Ela interpretando com muita timidez. E ficou legal, ficou uma coisa meio dialética: a pessoa está em cena e não quer estar em cena. Ficou bem interessante. E a gente então seguiu fazendo esses filmes em 8mm. E deu muito certo. A gente participou de algumas mostras. Tinha um cara aqui em São Paulo, o Abrão Berman que era um cineasta de 8mm e ele montou um festival só de 8mm – uma mostra de cinema 8mm e a gente exibia os filmes lá.
Isso formou uma cena local de cineastas de 8mm… Mas eu ainda tive uma sorte extra. Além de conviver com esse grupo maravilhoso de pessoas – o Carlão Reichenbach, era do grupo também, eu dividi um apartamento com o José Alberto Reis, gerente da Difilm (o Rogerio Sganzerla chegou a morar lá também), que era distribuidora do Cinema Novo. Ficava ali na Rua do Triunfo em plena boca do lixo. O Zé Alberto, eu conhecia de antes, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente fez – eu dirigi e o Carlos Egberto Silveira fotografou, um curta-metragem filmado no Espírito Santo, numa praia chamada Ponta da Fruta. E o Zé Alberto era muito amigo do Rui, que era um dos colegas da arquitetura envolvidos no filme e que tinha uma casa lá nessa praia, Ponta da Fruta. Foi aí que a gente se conheceu. No filme lá em Ponta da Fruta. Eu fiquei amigo dele, e foi através dele que conheci o Rogério.
Zé Alberto, além de ser gerente da Difilm, ele participava como co-produtor de alguns filmes. E um dos filmes que ele pegou para ser co-produtor, foi o primeiro filme do Maurice Capovilla, o Bebel, Garota Propaganda. E aí ele perguntou “olha, a gente está precisando de alguém para fazer fotografia de cena…”, eu já fotografava bastante nessa época, “Você não quer fazer a fotografia de cena do filme?” Eu falei “Quero, claro!”. E aí fui. O diretor de fotografia era o Waldemar Lima, e fiquei amigo dele. O Waldemar era uma pessoa muito generosa, que… No começo eu ficava meio receoso de perguntar para não o interromper, mas ele se mostrou tão amigável que eu perguntava coisas para ele, “por que você está colocando aquele refletor naquele canto? Por que você botou aquela bandeira ali?”. E ele me explicava tudo sem nenhum problema. No início o próprio Capovilla ficava meio assim, depois eu fiquei mais discreto, ia mais nos intervalos quando não estava rodando. E eu aprendi muito dessa forma. E fora que me deu a experiência de participar, ver como era a mecânica toda da filmagem. O produtor executivo era o Roberto Santos. Tinha muita gente boa envolvida. Os atores, o elenco, o Paulo José. O filme lançava uma atriz que até hoje está viva. Eu tenho contato com ela, uma amiga, a Rossana Ghessa, que era lindíssima, ela fazia o papel título, a Bebel. O filme era baseado num conto do Ignácio de Loyola Brandão, que também acompanhava as filmagens e tal. Eu fiquei amigo dele nessa época, depois a gente fez coisas juntos, ele era editor de uma revista chamada Lui, uma revista masculina, da Editora 3, e depois eu trabalhei como fotógrafo, fazendo fotos para ilustrar matérias da revista, algumas matérias dele e tal. Mas o filme Bebel me colocou no cinema profissional. Foi uma oportunidade que eu tive de entrar no cinema profissional.
CC: Mas você chegou a se formar na Escola São Luís, não é?
EBERT: Não, porque eles meio que descontinuaram a escola. Ninguém comprou essa coisa de dois anos sem aprender nada de cinema. Foi uma coisa que esvaziou a escola. A escola deu uma murchada. Eu nem sei se formalmente ela foi extinta, mas eu sei que todo mundo saiu. A minha turma toda saiu. Cada um foi fazer a sua coisa. Alguns continuaram em contato, juntos e tal. Eu era muito amigo do Carlão Reichenbach, era bastante ligado, porque ele também gostava de fotografia, de cinematografia, então a gente andava muito junto. Então o Bebel, para mim, foi uma oportunidade muito boa de entrar no mercado.
E nessa época é que eu conheci o Rogério, através do Zé Alberto… O Rogério era crítico de cinema do Estado de São Paulo. Era gozado que ninguém acreditava quando ele dizia isso, porque ele era muito jovem. Eu tenho a mesma idade que ele, a gente tinha nessa época 19, 18, uma coisa assim. No máximo 20 anos. Eu sou de 46, ele também de 46, em 1966, a gente tinha então 20 anos… 21 anos. A gente tinha 21 anos nessa época. E as pessoas, quando ele se apresentava, quando a gente conhecia pessoas novas e tal, ele falava “eu sou o Rogério Sganzerla” e ninguém acreditava. As pessoas olhavam para ele e pensavam “Rogério Sganzerla?” Escreve no Estadão? Sobre cinema? E ele falava, “é, isso, sou o Rogério Sganzerla”.
Rogério chegou a morar no apartamento que eu dividia com o Zé Alberto por um breve período. Antes ele morava com um irmão ali na Avenida Sumaré, mas ele brigou com esse irmão, aí ficou sem casa, o Zé Alberto ofereceu, “vem pra cá”, era um apartamento grande, tinha dois quartos grandes, uma sala e tal, e ele foi pra lá. E aí nós ficamos amigos, e ele me mostrou o roteiro. Ele andava com esse roteiro dia e noite e o tempo inteiro ele fazia anotações. Qualquer ideia que ocorria, ele sacava o roteiro de dentro da bolsa e anotava. E esse roteiro ele reescreveu várias vezes, porque ele ficava quase destruído, ele ia para todo lugar, e anotava em cima, já não tinha mais lugar, então ele anotava nas costas das folhas datilografadas. E aí, como ele era do Estadão, tinha uma secretária lá no jornal que re-datilografava. Então, eu vi umas duas versões desse roteiro apodrecerem para depois renascerem. Saia novinho da secretária, ele mandava encadernar, montava aquela espiral. E aí ele recomeçava a anotar.
CC: E esse roteiro era o Bandido da Luz Vermelha?
EBERT: É, o Bandido. E aí, depois de um tempo, ele cansou de esperar as negociações com os produtores da Boca, o Antônio Polo Galante, e falou “Vamos começar a filmar, eu não aguento mais!”. E começamos a filmar. Eu, ele e um assistente, o Wladimir Warnowsky, que fazia assistência de câmera para mim e também operava a pouca luz que a gente tinha. Tinha também o motorista da Kombi. E depois entrou um menino como auxiliar de produção, o Pereirinha. Então éramos nós quatro, às vezes cinco, filmando. Começamos a filmar assim. É fácil reconhecer essa época dentro do filme pronto porque é a parte do filme em que o Paulo Villaça aparece de bigode, com um bigodão estilo mexicano. Todos os planos que ele aparece com aquele bigodão mexicano são dessa primeira fase com a equipe de quatro ou cinco pessoas.
Filmávamos sem produção nenhuma. E aí o dinheiro que ele tinha para fazer essas filmagens era o dinheiro do negativo. O negativo nessa época era como se fosse uma droga rara, uma espécie de fentanil, corria a boca pequena lá na boca do lixo quando chegava negativo. “Chegou! Chegou dez latas de Double-X lá no Galante. Vai lá que ele vende uma”. E custava muito caro. A Kodak vendia oficialmnte por um preço absurdo porque os impostos que incidiam sobre essas importações de material cinematográfico eram altíssimos, então você comprar legalmente, ir na Kodak, na Gevaert, era impraticável. Essas duas – a Gevaert e a Kodak, tinham representação no Brasil, mas ninguém conseguia comprar lá porque o preço era absurdo. Então tinha uns atravessadores que traziam de contrabando. Alguns via Paraguai, outros via Santos, de navio. E o pessoal comprava. O cinema da época, o cinema da boca, foi todo feito assim, com esses filmes que entravam contrabandeados. E aí eu até brinco que nessa época eu era uma espécie de “sommelier de negativo”, porque você tinha várias pequenas quantidades de todos os negativos. Então tinha o mais barato, o da Gevaert, o Gevapan 30 que era de baixa sensibilidade, o Gevapan 36, que era de alta sensibilidade, tinha o Kodak Plus X, o Kodak Double-X, que também eram de baixa e alta acessibilidade e tinham os mais “luxuosos”, que eram o Dupont, superior-2 e superior-4. Então eu virei “sommelier de negativo” porque eu perguntava “o que a gente vai rodar amanhã?”. E respondiam: “Não é uma cena importante, não. É uma documentação que eu quero fazer com ele ali na cidade, na Praça da Sé.” “Ah, então vai o Gevapan 30”. Se eu fazia uma cena importante como aquela em que jogavam uma mulher do hotel ali na São João, então eu usava o Dupont Superior-4. Então a gente filmava assim: tudo um por um, não tinha take dois. Porque o negativo era muito caro, a revelação era cara. É gozado porque você vendo o filme dá uma impressão de improviso na hora da filmagem, o que nunca existiu. Porque como era uma coisa muito cara filmar, a gente ensaiava todos os movimentos de câmera. Eu trabalhei quase o tempo inteiro com a câmera na mão. Eu gostava muito de operar a câmera na mão. Segundo as pessoas da época, eu operava bem na mão. Então, o Rogério disse: “Vamos fazer tudo na mão mesmo.”. E aí eu inventei uma série de coisas…
CC: Tem a história do travelling no tapete puxado, não é?
EBERT: Isso! Você já sabe as histórias.
CC: Essa é clássica.
EBERT: Então, a gente começou a filmar na marra. Aí acabou o negativo, o dinheiro, a gente deu uma parada e ele foi garimpar de novo lá na boca. E o José da Costa Cordeiro – o apelido dele era Deca, que era gerente de uma distribuidora, a Urânio Filmes, pediu para ver um copião. A gente exibiu numa cabine lá na boca do lixo. Ele olhou e falou “putz, bacana, vou entrar”. E aí a gente mudou. Como iamos começar uma parte mais complexa do filme, com mais atores além do bandido e tal, eu falei para o Rogério: “Olha Rogério, eu não tenho essa experiência toda com internas, com iluminação, vamos pegar uma pessoa para iluminar, pelo menos. Eu continuo fazendo câmera do jeito que a gente curte, com a câmera na mão. Mas vamos pegar uma pessoa para iluminar, calcular a exposição, essas coisas.“. E ele topou. A gente tentou primeiro o Hélio Silva, que era amigo conhecido, já tinha ficado hospedado também lá no apartamento e tal. O Hélio não podia, ia começar um filme, não me lembro que filme era na época. Mas aí a gente soube do Peter Overbeck. Ele vinha da arte, não era originalmente diretor de fotografia, ele fazia direção de arte na Vera Cruz. Ele era um alemão, uma pessoa com conhecimento técnico geral, conhecia física etc. Então ele não teve nenhuma dificuldade em migrar para a fotografia e já fotografava muita coisa nessa época que a gente o chamou. O filme do Hélio ia demorar muito e a gente não queria esperar, já que o Deca tinha entrado no filme, e tinhamos dinheiro para filmar, pensamos: “não vamos esperar”. E aí então a gente chamou o Peter, que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito discreta, meio introspectiva, mas ótima pessoa e que curtia muito as ideias da gente. Embora ele já fosse bem mais velho que a gente, ele tinha uma abertura muito grande para a nossa linguagem, para a nossa forma de ver o cinema. E aí foi um casamento fantástico. Eu continuei na câmera e aprendi muito com ele. Ele era muito inspirado como cinematógrafo. Conseguia dosar muito bem uma coisa naturalista que era necessária, porque a gente estava contando a história de um personagem que estava vivo ainda, e uma coisa mais para o expressionismo, com tons mais sombrios. Ele sabia dosar muito bem isso; ficar entre o naturalismo que era necessário para contar a história do João Acácio e dar uns toques mais expressivos. Às vezes, quando ele botava uma luz de baixo, dava aquela sombra divertida… E a gente ficou fã dele. E era uma pessoa maravilhosa, deliciosa. Então, ele se integrou muito, virou da nossa turma.
CC: E nessa época, vocês eram pagos pelas diárias ou vocês trabalhavam “na paixão”?
EBERT: A partir da entrada do Deca, a gente começou a ter uma espécie de ajuda de custo, não chegava a ser um cachê, mas que quebrou um grande galho. Para mim, pelo menos, foi um grande quebra-galho. Mas o Rogério não, o Rogério era sócio do filme. Ele negociou com o Deca uma participação percentual dele como autor do roteiro e como diretor. Então ele era sócio do filme e eu não era sócio do filme, então eu tinha essa ajuda de custo que depois foi integralizada como um cachê, mais para frente, quando o filme foi lançado. O filme fez muito sucesso. A gente não esperava um sucesso tão imediato. O filme estreou no Cine Marabá, na Avenida Ipiranga, ali no Centrão, e fez fila. Tinha fila de virar a esquina na primeira semana, no final da primeira semana. E a gente ficou surpreso, “como é que pode?!”. A gente não estava preparado para o filme fazer isso. E o filme foi para o Festival de Brasília nessa mesma época. Então foi uma delícia.
CC: Um casamento perfeito.
EBERT: Um casamento perfeito, exatamente. E aí o Rogério conseguiu uma coisa muito interessante, ele conseguiu fazer um filme produzido por um produtor mais convencional – o Deca não era uma pessoa da vanguarda, a Urânio tinha até porno-chanchada, tinha de tudo. Mas o Rogerio conseguiu manter na íntegra as ideias e as propostas estéticas dele sem fazer nenhuma concessão. E isso foi um feito. Porque o Rogério – e eu também me enquadro nessa categoria, a gente era anarquista, prá falar a verdade. A gente achava que o pessoal da esquerda convencional, o pessoal do partidão, a gente não curtia, achavamos eles uns chatos. Então a gente não pertencia a nenhum grupo político em evidência na época, porque a gente era muito crítico, a gente se achava no direito de criticar o que a gente achava errado. E na época existia muita ortodoxia, aquela famosa frase “É melhor errar com o partido do que acertar fora dele”, era uma frase da época. E a gente achava isso o fim da picada. A gente não queria estar nessa de jeito nenhum. E o Deca foi muito legal, porque ele preservou a nossa liberdade. O Rogério filmou o que ele quis. Com limitações, porque mesmo depois que o Deca entrou, não tinha tanto negativo, não tinha tanto dinheiro, mas a gente almoçava todo dia, tinha a Kombi e tal…
CC: Tinha Um básico para a sobrevivência.
EBERT: Isso, um básico para a sobrevivência. E aí que está, nós éramos, posso dizer, sem parecer que estou fazendo um auto elogio, nós éramos muito inventivos, muito criativos. O cinema que a gente gostava era um cinema de invenção. O título do livro do Jairo Ferreira Cinema de Invenção, é muito dessa nossa conversa. E a gente gostava de uns cineastas que não eram muito queridos pelos cinéfilos. A gente curtia Samuel Fuller, Lesley Selander, que era um diretor de faroeste B americano, curtia umas coisas meio fora da casinha. E ele deixou, não interferiu na estética do filme. Quando ele entrou no filme, ele sentiu que o Rogério era uma pessoa talentosa. E falou, “não vou mexe”r. Filosofia do Neném Prancha: “Não se mexe em time que está ganhando.” Ele deixou o Rogério livre e o filme deu certo. E a partir daí, o filme abriu as portas para minha carreira profissional. E eu nem soube aproveitar tão bem essa abertura que o filme me proporcionou porque acabei aceitando fotografar um longa-metragem- que era uma coprodução Brasil-França-Portugal. Um filme juvenil chamado Leg: Sou Louca por Você, com uma atriz francesa, jovem, uma menina de 16 anos – acho que ela então tinha 16 anos, chamada Bicky Berger. Era um filme leve, uma
comédia. O diretor era português, o Rui Gomes, que era também um ator muito conhecido no cinema novo português. Tinha feito como ator um filme chamado Os Verdes Anos. Foi um clássico do cinema português, um novo cinema português. E o diretor de arte era um francês muito bom. Mas o filme… Para mim, foi a primeira vez que eu tinha todo o negativo que eu precisava. Eu filmei com uma Cameflex, que era uma câmera francesa sofisticadíssima. Eu nunca tinha conseguido chegar perto dessa câmera. Eu pedi, e eles me deram uma Cameflex com oito objetivas!. Tinha tudo o que eu queria. Então, era bem produzido. Para mim, profissionalmente, foi muito bom, porque eu mudei de patamar. Passei a ter um equipamento de primeira linha… Mas o resultado do filme não me satisfez, a proposta do filme já era ser um filme comercial para jovens. Não é ruim, não vou dizer que seja ruim, é bem feito. Foi bem montado, bem finalizado… E aí, depois eu fui fazer outras coisas…
CC: O Sou Louca por Você já é 1970?
EBERT: É, 1970, exatamente.
CC: Na minha pesquisa, consta que você ainda fez Viagem ao Fim do Mundo, em 1969 e Elas, em 1970.
EBERT: Fiz sim. Viagem ao Fim do Mundo, foi um grande prazer fazer, porque é um filme do Fernando Campos, que é uma pessoa que eu amava, era uma espécie de ídolo intelectual. Fernando Coni Campos, que me adotou totalmente, inclusive se você for ver os créditos do filme, eu estou como “diretor técnico”, eu que era um fedelho. Ele me colocou como diretor técnico, porque já tinha o Oswaldo de Oliveira, o Oswaldo Carcaça, como diretor de fotografia e tinha o Cliton Villela, que era amigo dele da Bahia, como operador de câmera. Então ele falou: “Mas você estava supervisionando tudo, você que dava as dicas, então eu vou botar você como diretor técnico”.” Então foi uma experiência muito boa, o Fernando era um gênio, não era uma pessoa muito organizada, mas era um gênio, um gênio do cinema. E eu adoro o filme até hoje, o Viagem ao Fim do Mundo. Então, foi uma experiência muito boa também. A convivência com o Fernando e com a mulher dele, a Talula Campos, que era atriz, fazia a freira no filme, foi uma convivência riquíssima. Eu devo muito dos interesses que eu tive a partir daquela época ao Fernando. Ele foi um orientador intelectual e estético para mim. É uma pessoa fantástica. Injustiçado, eu acho. Na história do cinema brasileiro, ele não tem o destaque que merece. Ele mereceria figurar como um dos caras importantes daquela época e é pouco falado, mas a história do cinema brasileiro está cheia disso… Logo, teve esse intermezzo.
Depois, por que eu estava fazendo o Sou Louca por Você, eu não pude fazer A Mulher de Todos, que é o segundo filme do Rogério. Por estar nessa “produção internacional”, acabei não podendo fazer o do Rogério, perdi esse bonde…
CC: Sobre A Mulher de Todos, com o lançamento do filme tem uma entrevista do Rogério e da Helena Ignez no Pasquim, em que eles rompem com o Cinema Novo, assim, de vez.
EBERT: O Rogério não tinha nenhuma simpatia pelo pessoal do Cinema Novo.
CC: E como você enxergava o Cinema Novo? Porque na minha pesquisa consta que você fez o restauro do acervo de fotos da Difilm, não é? Que era a distribuidora do Cinema Novo.
EBERT: Fiz, fiz. Então, como eu era amigo do Zé Alberto, ele disse: “Ebert, eu sei que você está meio duro aí. Eu estou com um monte de material de porta de cinema, cartaz, fotos, que estão num estado lamentável. E eu não tenho negativos dessas fotos. Você não quer fazer isso para mim? Organizar, reproduzir, restaurar, fazer cópias novas das fotos de porta de cinema?” E eu topei. Eu junto com o Paulo Rufino, colega da Escola de Cinema São Luis que é uma pessoa que está viva por aí. O Paulo Rufino nessa época namorava a Ana Carolina. Eu tinha fotografado para ele um filme chamado Lavrador, que inclusive ganhou prêmios fora do Brasil.
CC: É um curta-metragem, não é?
EBERT: É um curta-metragem sim. O Paulo Rufino morava sozinho, em frente de onde eu morava, no apartamento da General Jardim, esquina com a Major Sertório. Ele morava do outro lado da rua. Era uma turma boa ali. Éramos vizinhos do Paulo José e da Dina Sfat, que eram os “vizinhos ricos e famosos”. De vez em quando eles davam um churrasco, a gente via a turma toda por lá. E aí eu falei: “Rufino, você tem laboratório no seu apartamento, você tem uma mesa de reprodução, Leitz, muito boa, Reprovit Leitz. Você não quer se associar comigo? Eu estou com esse trabalho na mão aí, o Zé Alberto me chamou para restaurar.”. E aí fizemos juntos, deu muito trabalho, era bastante coisa, tinha que ter um controle de sensitometria, de densitometria muito bom, porque a gente estava reproduzindo fotos, então já tinha um contraste, a gente não podia acrescentar mais contraste, então eu fiz um monte de testes sensitométricos, até chegar a um revelador, novo na época, chamado Microdol, com uma diluição altíssima, um tempo de revelação longo, para conseguir não acrescentar contraste no negativo que reproduzia a foto. Eu era muito ligado na técnica fotográfica. Eu tinha estudado sensitometria. Me lembro que uma vez eu peguei as minhas economias e comprei um livro na livraria francesa, em francês, chamado Sensitométrie des Images Colorées, que foi todo o dinheiro do mês, mas que valeu a pena, porque eu aprendi muito com esse livro.
CC: Foi um investimento.
EBERT: Foi um investimento. Eu fiquei muito bom em sensitometria, porque peguei a teoria toda nesse livro francês então valeu a pena. Então, eu restaurei para o Zé Alberto esse acervo de fotos da Difilm e continuava fazendo foto prá mim.

O meu primeiro emprego em São Paulo foi como revisor e depois redator de uma enciclopédia infanto-juvenil chamada O Universo e o Homem, de uma editora chamada Samambaia, Eram exilados portugueses, fugidos da ditadura do Salazar , um deles, inclusive, tinha um defeito físico ocasionado por tortura da PIDE [Polícia Internacional e .de Defesa do Estado], quando lá esteve preso. Mario Henrique Leiria era o seu nome. E era um pessoal muito legal. Eu entrei como funcionário nessa editora Samambaia, graças ao nosso professor de arte na Escola Superior de Cinema, que era um uruguaio chamado Luiz Diaz. Pela idade já deve ter falecido. Fiquei muito amigo dele, ele gostava muito de fotografia também, a gente conversava horas sobre fotografia. E ele me ofereceu esse emprego na editora Samambaia. “Você escreve, você tem redação própria. Nós estamos precisando primeiro de um revisor, porque tem muito material para ser revisado.“. Aí virei revisor. Era impresso numa gráfica ali na rua Santo Antônio. Nessa época ainda era linotipo. Então, todo dia eu ia lá levar originais e pegar o que eles tinham feito na véspera e tirado provas para eu fazer a revisão ortográfica. Então eu ia para o Ferro’s Bar, que ficava ali no viaduto, bem em frente de uma sinagoga. Era o bar onde a noite iam os trans da época, era um bar LGBT da época. Durante o dia ficava às moscas, entao eu pegava as provas da linotipia na gráfica, ia para o bar, pedia um Dreher, e ficava lá revisando tudo. Depois passava na rua Santo Antônio e entregava o revisado. Essa era a minha rotina.
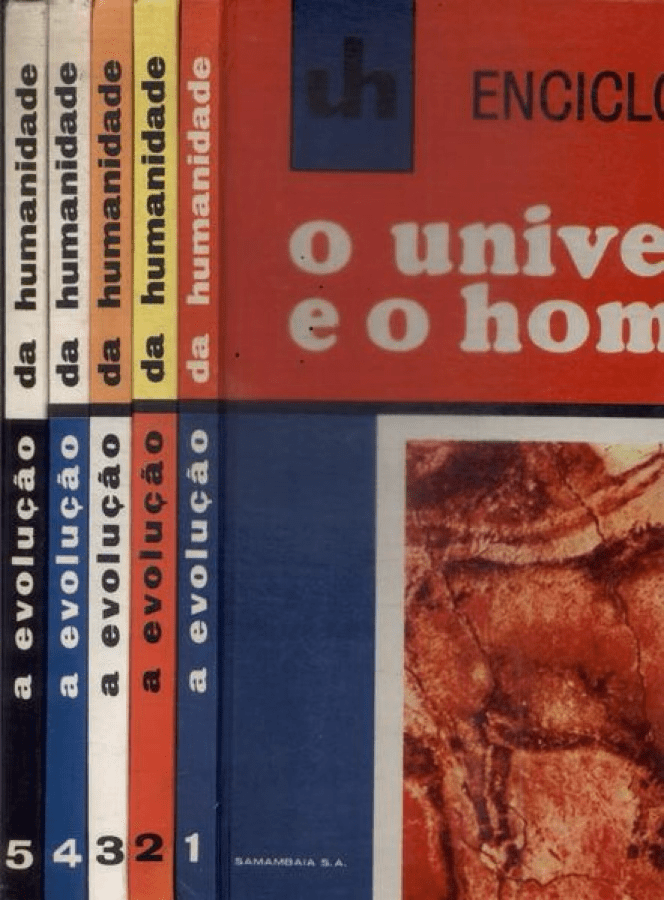
CC: E você se bancava assim durante a Escola de Cinema?
EBERT: Exatamente, a minha sobrevivência se dava graças a esse emprego. Como o Luiz sabia que eu fotografava, ele falou com os caras lá ( ele fazia diagramação, fazia a arte gráfica para eles: “Olha, o Ebert fotografa também. De vez em quando vocês compram essas fotos caras de animais, manda ele lá no zoológico que ele faz.“. Aí eu comecei a ir ao jardim zoológico, fotografar os animais para ilustrar os livros. Saia muito mais em conta prá eles. ”Vai lá, faz uma foto de zebra. Tem que ser uma zebra macho e uma zebra fêmea. Tem que fazer as duas. E tem que aparecer que ela é macho e a outra é fêmea.“. Instruções para fotografar zebras… E depois eu iria escrever o texto da legenda. [risos]. E aí eu comecei a fotografar por lá e esse foi o meu começo como fotógrafo profissional, graças à editora Samambaia, que tinha essa demanda. E eu continuei fazendo revisão, comecei a escrever legenda de foto também. Eu tenho aqui alguns exemplares da Enciclopédia, eu consegui comprar, uma vez eu estava num sebo aqui em São Paulo, e eu olhei e tava lá a Enciclopédia Universo e o Homem, eu comprei e tenho aqui. E foi a primeira vez que eu tive um crédito impresso, inclusive nessa época eles não puseram o “Carlos Ebert”, puseram “Carlos Alberto de Azambuja Ebert”, que é o meu nome inteiro. Então, foi muito bom. A minha experiência dessa época, a Escola de Cinema, O Bandido da Luz Vermelha, Viagem ao Fim do Mundo, Editora Samambaia, foi uma formação prática.
CC: Foi a sua faculdade de cinema.
EBERT: A minha real faculdade de cinema foram esses trabalhos que eu fiz nessa época.
CC: E, diferentemente do Rogério, você não chegou a publicamente romper com o Cinema Novo?
EBERT: Não, porque como eu era amigo do Zé Alberto, e o Zé Alberto era gerente da Difilm, que era distribuidora no Cinema Novo, eu tinha contato com o pessoal. Por exemplo, o Gustavo Dahl ficava lá em casa quando vinha a São Paulo, e eu fiquei amigo dele. Então eu estabeleci laços com o pessoal do Cinema Novo. Depois eu fui ser colega do Gustavo. O Gustavo era presidente do Conselho da Cinemateca, da qual depois, bem depois, eu fui membro, inclusive, [por] dois mandatos. E eu conheci o Gustavo lá atrás. Quer dizer, se eu tivesse me indisposto nessa época com o Cinema Novo, minha vida estaria prejudicada também. E eu não tinha nada contra o cinema novo. Eu gostava, principalmente do Nelson Pereira [dos Santos] e do Glauber [Rocha] e do Joaquim Pedro [de Andrade], esses três cineastas. Eu curtia muito. Eu já tinha tido contato antes, quando morava no Rio de Janeiro, com o Carlos Egberto [Silveira], que era de uma família muito rica, eles eram donos da fábrica Bangu de tecidos, ele morava num apartamento em Copacabana, maravilhoso, enorme, e ele tinha um projetor 16mm, e toda semana fazia sessões de cinema em casa, e convidava uma porção de gente. Entre essas pessoas que ele convidava estava o Mário Carneiro. Então eu também fiz amizade com Mário Carneiro, que era um fotógrafo do Cinema Novo, fotografou entre outros O Padre e a Moça. Então eu já tinha ligações com pessoas do Cinema Novo muito boas, certo? O Gustavo Dahl, o Mário Carneiro, etc. Para mim não fazia sentido nenhum criticar de forma negativa. Não era de todos os filmes que eu gostava, mas, por exemplo o Joaquim é um cineasta que eu, até hoje, acho sensacional. Acho O Padre e a Moça um baita filme.
CC: É como qualquer tipo de cinema. Tem filmes bons e tem filmes ruins.
EBERT: Exato. Eu, inclusive, felizmente tive a oportunidade de falar isso para o Joaquim antes dele se ir. “O seu filme, O Padre e a Moça, na época, para mim, foi muito importante.”. Cheguei a conversar também com o Mário Carneiro a respeito, foi um filme que abriu muito a minha cabeça. Então, eu não tinha nada contra o Cinema Novo. Agora, o Rogério, ele era uma pessoa muito esfuziante. Era uma pessoa muito intensa. E tinha uma coisa não tão velada assim, que era a competição Rio-São Paulo. E o Cinema Novo era todo do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo você tinha o Roberto Santos, tinha o pessoal mais da antiga, ligado à Veracruz, o Anselmo Duarte, de quem eu fui conhecido e amigo. Sempre me dei super bem com ele. Eu, uma época, escrevi um roteiro com o Jô Soares, um filme que ele filmou bem depois, chamado O Pai do Povo. O Jô morava numa vilazinha ali na Brigadeiro Luiz Antônio e eu ia escrever lá. Ele chegava tarde da Globo, e a gente começava a escrever às 22h30, 23h da noite. E o Anselmo Duarte era muito amigo dele, do Jô, e frequentava a casa. Como eu trabalhava lá, fiquei amigo dele. Então eu não tinha essa coisa, sabe, de “Ah, fulano é da antiga, é da Vera Cruz“, não tinha isso. É que o Rogério era um pouco intenso demais nessa coisa da política cinematográfica.
CC: Ele era muito iconoclasta também.
EBERT: É, e muito iconoclasta. Eu não vou dizer que eu era uma flor de contemporização, não era. Eu também tinha discussões, na própria Escola de Cinema a gente tinha. O Person, por exemplo, que era nosso professor, e era o professor que ia depois da aula para o bar Riviera com a gente – era o único professor que tinha essa convivência mais intima, ele detestava o Godard. Detestava, falava mal e tal. E a gente defendia. Eu e o Carlão brigávamos quase que fisicamente com o Person. “Você não entende, Person! Como é que você não entende? O Godard é um gênio! O Godard, não sei oque…”. Tínhamos discussões acaloradas por causa do Godard.
CC: E como entra para você a questão da militância no cinema? A política e esse tipo de coisa?
EBERT: Então, eu, assim como o Rogério, eramos muito mais niilistas, anarquistas do que qualquer outra coisa. Antes de vir para São Paulo, eu tinha feito muita política estudantil. Não cheguei a ser um quadro do Partidão, mas era simpatizante. E na política estudantil, votava via de regra com com o Partidão. Então, eu já tinha uma experiência e achava que essa esquerda institucionalizada – o Partidão mesmo, eu achava que eles tinham sido superados pelo tempo. Nesse meio tempo estava acontecendo a revolução dos costumes, da sexualidade: amor livre, droga, maconha, tudo acontece nesse momento. Então, eles ficaram fora desse movimento. Eles ficaram, como a gente diz até hoje, caretas. O pessoal do Partidão era muito careta. Então, eu não me encantei. Eu vinha participado politicamente de grupos à esquerda do Partidão. Cheguei a participar de um grupo que fazia guerrilha urbana, entendeu? Então, eu tinha uma atividade política bem à esquerda do partido.
CC: O Partidão que também depois entraria na ilegalidade.
EBERT: Exato. Mas o que que acontece: essa fase política minha, eu ainda estava no Rio de Janeiro, essa fase de militância, de guerrilha, eu ainda estava no Rio. Quando eu fui para São Paulo, o cinema me ocupou. Então eu achava que a minha revolução ia estar nas telas. O que eu tinha que fazer para alterar a realidade ao meu redor, eu tinha que fazer de tal forma que terminasse numa tela projetada.
CC: Entendo. E isso que você fala do seu anarquismo, do niilismo, seu e do Rogério, também é muito presente no próprio Bandido, com o “terceiro mundo vai explodir!” e etc.
EBERT: Totalmente, “Quando a gente não pode fazer nada, a gente esculhamba! Esculhamba e se arrebenta.” O Rogério tinha umas frases fantásticas, ele era um frasista genial. Eu conto em algum lugar, a gente estava morando no meu apartamento e às vezes eu o acompanhava na Odil, onde estava sendo sonorizando o Bandido. Tem uma história ótima. Ele estava terminando a sonorização, e tinha aquela locução, que alternava um homem e uma mulher, como nos programas radiofônicos de crime de então. E aí a última frase que ele colocou no filme, sobre um plano da lua no céu, ele botou a locutora falando “sozinho a gente não vale nada!”. Ele colocou, e veio prá casa. Aí de noite a gente conversando, ele estava meio encucado, meio paradão, em silencio sentado no sofá. Eu falei: “O que houve, Rogério? Você está de bode?”. Ele falou: “É, rapaz, eu terminei de colocar a locução off e não sei… Não está legal. Amanhã eu vou voltar na Odil e vou regravar aquilo“. Fomos jantar e tal… No dia seguinte eu não fui na Odil, e ele voltou feliz da vida, satisfeito. Eu falei: “Deu certo, Rogério?” Ele falou: “Deu..”, “O que você fez?“, “Eu regravei assim: ‘Sozinho a gente não vale nada… E daí?’“. Esse era o Rogério. A contestação da contestação. “E daí?” Essa história é muito boa. “Sozinho a gente não vale nada… que bobagem, parece coisa do Partidão.“. Aí ele foi lá, gravou o “e daí?” e ficou satisfeito.
Mas essa fase em São Paulo foi muito boa. Tinha essa coisa da gente achar que não era reconhecido, que o cinema paulistano não era reconhecido. Porque tinha nós, o Batista, o João Batista de Andrade, que era nosso amigo, que foi assistente de direção do [Maurice] Capovilla no Bebel, e eu conhecia todas essas pessoas de trabalhar junto. O Sebastião [de Souza], que era continuísta do Bebel, o Ramalho era assistente de produção, Francisco Ramalho Jr., que depois fez a Anuska [Anuska, Manequim e Mulher (1968)], que era até parecido com o Bebel, pois também era a história de uma moça que era modelo. Então eu convivi muito com essa turma do cinema paulistano. E realmente eles não tinham muita entrada. O Cinema Novo meio que desconsiderava, achava que não era nada. E tinham filmes interessantes. O Gamal [Gamal, O Delírio do Sexo (1969)] do Batista é um filme muito interessante. Muito bem feito, o [Jorge] Bodansky, puta câmera também, genial. Somos grandes amigos até hoje, estamos sempre nos falando. Mas o pessoal do Rio não curtia. Os filmes do cinema paulistano eram lançados no Rio e ninguém ia ver. Não tinha nenhum comentário de ninguém, nenhum crítico. Sérgio Augusto, esse pessoal ficava em silêncio. Não falava nada, e a gente se ressentia. Mas eu sempre achei uma bobagem essas divisões, isso só nos enfraquecia. Eu tinha uma ideia de que a gente podia ter divergências, e sempre haveria, mas que elas não precisavam separar a gente do movimento. O movimento Cinema Brasileiro tinha que ser uma coisa mais tolerante, tinha que poder englobar, inclusive, a pornochanchada. O [Antonio Polo] Galante, que era um cara da pornochanchada, acabou botando dinheiro em vários filmes do Cinema Novo paulistano. O próprio Deca, que botou dinheiro no Bandido. Então, não tinha essa coisa rígida, entendeu? Então, eu, pessoalmente, não fazia nenhuma discriminação nem contra o cinema da Boca do Lixo, a pornochanchada… E o Carlão também não. O Carlão fez pornochanchada, dirigiu porno chanchada. Aquele menino que era crítico de cinema no Estadão também, dirigiu pornochanchada. O Lima. Como é o primeiro nome dele? Antônio Lima. Então, era uma coisa muito fluida certo? Tinha cineastas importantes que fizeram pornochanchada, o João [Callegaro] também fez pornochanchada. Então, eu sempre fui muito aberto. Essa coisa de “escola”, de “grupinho fechado”, eu nunca curti isso. Acho que você tem que deixar as suas diferenças estéticas no plano intelectual. Gosto de uma coisa, tudo bem você não gosta, mas se o outro gosta, isso não deve ser um impedimento para você dialogar. Hoje, com a internet, você tem muito isso, uma espécie de intolerância. Eu só falo com quem gosta disso ou daquilo. Isso é errado. Você tem que ter uma coisa mais humanista, mais eclética. Não pode ser tão aferrado assim.
CC: E nessa questão desses debates, um debate grande que se deu nos anos 70 foi com relação ao nome do que vocês faziam, se era “marginal”, se era “experimental”, se era “de invenção”. Essa discussão é relevante para você?
EBERT: Nunca foi. Inclusive, algumas pessoas ficaram meio invocadas com o título marginal, cinema marginal. E eu nunca fiquei, porque, inclusive, nessa época, o [Ozualdo] Candeias fez um filme chamado A Margem. Um filme que a gente adorava. O Candeias é um caso único, uma pessoa com uma bagagem cultural totalmente diferente da nossa – que éramos todos filhos de classe média, com instrução formal. O Candeias não, era uma pessoa mais, como a gente falava na época, do povão. E fez um puta filme, porque cinema, é isso, cinema é uma vocação, uma pessoa que pensa em imagens e sons. Então, não interessa se o cara é formado em filosofia pela Sorbonne ou não, ou se trabalhou como entregador de moto. Isso não tem importância. Esse cara que trabalhou de entregador pode fazer um puta filme, não é relevante. E eu achava isso. Então, esse rótulo marginal nunca me incomodou. Era simplesmente um nome. Eu achava ruim ter mais de um nome. Isso é ruim. Mas o fato da palavra marginal estar em um dos títulos do movimento – que nem chegava a ser um movimento, não nos incomodava. Era essa coisa do rótulo que vem para facilitar a classificação de quem lida com cultura já em retrospecto. Quem está tentando organizar o movimento cultural, é que dá esses rótulos, “cinema de invenção”, “cinema marginal” e tal. Mas o Cinema Marginal como nome do movimento não me incomodava em nada.
CC: E nesse sentido das relações, desses debates acirrados que se tinha no dia-a-dia, a relação entre profissionais da boca era mais uma relação de camaradagem ou tinha uma competição mais acirrada?
EBERT: Não, o Soberano era o nosso ponto de encontro. Bar e Restaurante Soberano. Ali a gente convivia com todo mundo. Inclusive, o filme que eu fiz a direçãoe que foi proibido, o República da Traição, quem finalizou ele (eu vendi uma parte do filme para poder finalizar), foi o [Aníbal] Massaini [Neto]. Sou amigo do Massaini até hoje, do Massaini Filho, o
Oswaldo já se foi. Temos uma relação super legal. Ele foi muito legal comigo, o pai também. Então eu não tinha isso. E todo mundo se visitava. A CineDistri tinha um happy hour no fim de tarde e todo mundo ia lá. Ramalho estava sempre lá, Batista. Não tinha essa coisa. Eu pelo menos nunca senti isso. Agora, tinha umas pessoas que eram uma outra turma. Por exemplo, o [Walter Hugo] Khouri e o [Rubem] Biáfora, esse grupo aí, Khouri e Biáfora, não é que era estanque, mas não eram muito abertos para nós. Eu acabei tendo alguns contatos, porque eu trabalhei no Bebel, e quem era o assistente de câmera do Valdemar Lima era um menino húngaro chamado Gyula Kozlovari. Depois virou diretor de fotografia… E o Gyula tinha trabalhado como assistente do outro húngaro mais velho que fotografava os filmes do Khouri, o Rudolf Icsey. E eu fiquei muito amigo do Gyula e ele transitava super bem entre os dois grupos, certo? Não via nenhum problema. Então, não tinha muito isso. Era uma coisa que era mais estimulada, talve mais pela crítica. O Biáfora era muito radical do lado do Khouri . O Rogério era muito radical do outro lado. Então tinha um embate mas mais a nível intelectual.
CC: Acabou se criando uma questão pública que não refletia a realidade do dia-a-dia.
EBERT: Exatamente. A própria Ana Carolina trabalhou com o Khouri. Ninguém ficou, “Ah, Ana Carolina, não pode trabalhar com Khouri.”. Ela trabalhou com Khouri. Então, não tinha muito isso mesmo. Isso foi meio que fabricado, porque, claro, a história fica muito mais saborosa quando tem esse tipo de conflito. Então, acho que os jornalistas potencializaram isso aí, deram um gás nesse enfrentamento mas não era nada demais.
CC: Então até 1970, você trabalha como diretor de fotografia e vai dirigir o República da Traição, não é? Como surgiu esse projeto?
EBERT: Eu dividia um apartamento, depois que saí do apartamento do Zé Alberto. A gente alugou um apartamento ali na esquina da Ipiranga com a Consolação. Embaixo tinha um bar famoso chamado Redondo, que era bem ao lado do Teatro de Arena. E eu aluguei esse apartamento com um colega da São Luís, que era o Cláudio Polópoli, Cláudio Alberto Polópoli, que era muito amigo meu e tal. E o Polópoli recebeu uma herança, o avô dele faleceu, e a primeira coisa que ele falou foi “Vamos fazer um filme.”. E aí a gente começou a escrever um roteiro, que era o República da Traição, que nessa época tinha outro título, chamava-se Mistério, Sexo e Aventura, que era uma coisa que a gente tinha com o pastiche. A gente curtia essa coisa de porta do cinema sensacionalista. Então a gente falou: “já pensou fazer um cartaz e botar na porta do cinema: Mistério, Sexo e Aventura?”. Então a gente escreveu esse roteiro e com o dinheiro da herança filmamos. Eu chamei a Vera Barreto Leite, que era uma mulher lindíssima, muito elegante, tinha sido a primeira brasileira trabalhou como manequim da Chanel em Paris, era uma musa. E chamei o Antônio Pedro, que era um ator que tinha trabalhado muitos anos na França, em Paris, com os exilados portugueses, tinha dirigido um grupo de teatro lá com esses portugueses, e era um ator excepcional, e também tinha o physique du rôle do nosso personagem, que era um cientista espião, que está num país da América Central, que é a República de Maraguayá, para espionar, mas com o pretexto dele estar estudando um bichinho, um crustáceozinho que tem nessa região chamado tatuí. Um Estudioso do Tatuí, mas na realidade ele estava espionando, procurando por areia monazítica. Era uma história rocambolesca, rocambolesca de propósito, porque a ideia era exatamente essa. E aí fizemos o filme.
O filme só tem crescido. Teve uma fase em que ele esteve proibido – ele foi o filme brasileiro que esteve mais tempo proibido. O último filme brasileiro a ser liberado no final da ditadura foi ele.
CC: O Jairo Ferreira escreve o Cinema de Invenção ainda com ele proibido, não é?
EBERT: Com ele proibido, sim. Eu sei que hoje o filme está na Cinemateca Brasileira e de vez em quando eles exibem, e surpreendentemente eu fui ver outro dia no IMDB, o filme tem quase oito de pontuação. Como?! É um filme maldito… Mas uma coisa é verdade, a gente se divertiu muito fazendo o filme. O elenco, tinha o Cláudio Mamberti, que também era produtor de campo, tinha a Selma Caronezzi, sensacional. A Selma era uma grande amiga minha.
CC: Tinha o Zózimo Bubul também.
EBERT: O Zózimo! Que também é um amigão, uma pessoa maravilhosa. É a hora da saudade… Dessas pessoas todas tenho muita saudade. A Selma também já foi. O Antônio Pedro está vivo, que eu saiba. A Vera também está viva. O Pitanga está vivo. O Pitanga também era da gangue chefiada pela Selma. Era o Pitanga e tinha mais… um menino chamado… Esse está vivo também, eu encontrei até um dia desses. Era o Bene Silva. Ele fazia um gangster também. Então a gente se divertiu muito filmando. Foi uma filmagem deliciosa.
CC: E os profissionais envolvidos eram todos da Boca?
EBERT: Eram. Wladimir Warnowsky, que era da Boca, o Alexandre Warnowsky, primo dele também. Era um pessoal ligado. Tinha um menino – meu amigo até hoje, que dirigiu também cinema, que era meu assistente de câmera, o André Faria. Ele era de uma outra turma, era do Rio. Tinha sido assistente do Ricardo Aronovich em alguns filmes. Depois ele filmou um filme produzido pelo Teatro Oficina, que eu fotografei uma parte – teve cinco fotógrafos nesse filme, chamado Prata Palomares. É tudo meio misturado. O República da Traição é esse pessoal com algumas exceções. Por exemplo, a direção de arte do filme e o figurino, é de uma pessoa talentosíssima ( nem sei se ela está viva ou não), a chamada Sara Feres, que era cenógrafo de teatro, que era genial, ela fez a iconografia toda de Maraguayá, aquela bandeira com dois papagaios segurando o lema Honor e Libertad, empoleirados, em dois canhões. A bandeira de Maraguayá era com as cores da mangueira: verde e rosa. Era um deboche total. O Cláudio Polópoli era um gênio que nunca foi reconhecido totalmente como o gênio que ele era. Nunca teve reconhecimento, mas era um gênio total. Uma das pessoas mais inteligentes – de inteligência rápida, que eu conheci. Ele tinha tudo na ponta da língua e as coisas saíam assim. Ele era, além de roteirista, produtor. A gente tinha uma produtora, a Ebert Polópoli Produção Cinematográfica Limitada. Ele foi o produtor do filme. Era um gênio, realmente o Cláudio Polopoli. O irmão dele era estagiário na fotografia, José Polópoli. Ele eu não sei por onde anda, nem se está vivo, mas era uma turma incrível O Júlio Calasso, que era o diretor de produção, que tinha trabalhado no Bandido também.
CC: Com relação ao Polópoli, no Cinema de Invenção, o Jairo Ferreira fala com ele e ele comenta que você virou fazendeiro.
EBERT: [Risos] Não, eu não fui fazendeiro… É a ironia dele. Não, eu fui morar no meio do mato.Eu fiquei muito puto com a proibição do filme, certo? E aí resolvi deixar a civilização de lado, o cinema, tudo. E fui morar em uma cidadezinha no sul de Minas, chamada Extrema. E a minha atividade lá, eu abri um restaurantezinho onde fazia uma comida chamada pieda, ou piada. Era a Casa da Piada. Então, o meu sustento era a Casa da Piada, que abria sexta, sábado e domingo, e eu também dava aulas no ginásio local. Dava aulas de história e sociologia. Para a cidade eu era um ilustrado, então eu virei professor. Mas eu me afastei do cinema. Fiquei um tempão totalmente fora.
CC: Por conta da proibição.
EBERT: Foi um golpe. Tirou o chão da gente. Puxou o tapete, literalmente. Aí eu resolvi dar um tempo no cinema.
CC: Aí você passa a década de 70 fora?
EBERT: É, lá em Extrema. Eu voltei porque em 1980 nasceram meus filhos gêmeos. Uma menina e um menino. Eles são de 1980, então estão com 45 anos agora. E aí o menino teve uma infecção provocada por uma mordida de mosquito, que inchou. Aí eu pensei: “Ah, não vou ficar aqui não, [estou] com criança pequena, eu vou embora.”. Aí fui para o Rio, voltei para a minha terra de origem. E lá não tinha como não ser atraído de volta para o cinema.
CC: Em 1983, sai O Rei da Vela, não é?
EBERT: É, aí eu me liguei ao Teatro Oficina. No Teatro Oficina eu fiz de tudo, eu trabalhei até como ator no Teatro Oficina. Recebi até um comentário elogioso do Yan Michalski, que era o grande crítico de teatro da época, escrevia no Jornal do Brasil. A gente fez uma mostra com os três espetáculos, o Rei da Vela, Galileu Galilei e Os Pequenos Burgueses. E eu me lembro que um dia me ligaram e disseram: “Ah, você já viu o jornal de hoje, o Jornal do Brasil?” Falei que não, “ah uma crítica aí do Yan Michalski que fala da participação notável de Carlos Alberto Ebert.”. Eu de ator, olha que coisa chique. Mas eu me diverti muito com o Oficina, porque eu fui adotado. Como eu era uma pessoa de cinema, eles me adotaram. E aí o Rogério Noel, um talentoso diretor de fotografia já naquela época, também fazia parte do grupo. A gente fez o Rei da Vela Juntos, ele foi um dos assistentes. O outro foi o [Antonio] Penido, que depois virou diretor de fotografia também. Então foi uma experiência muito boa no Oficina, porque eu trabalhei como ator e até a administração eu cheguei a fazer. Como era uma coisa chata, a administração fazia-se um rodízio. Seis em seis meses um administrava. E aí, uma época, eu que não tenho o menor jeito para isso, virei administrador do Teatro Oficina. Mas eu, como era o cara que sabia filmar, eu fiz várias coisas. Além do filme do Rei da Vela, eu filmei o Carnaval do Galileu em preto e branco, que é muito interessante Um barato. Eu gosto muito do Rei da Vela até hoje. O Zé Celso não sabia dar as coisas por prontas. Ele mexia, mexia, mexia, mexia. E ele foi botando, depois que a gente filmou o corpo principal do Rei da Vela com o elenco, o segundo ato a gente filmou em externas, no Rio. Depois ele ficou colocando coisas e filmou muito mais coisas…
Mais mesmo assim, eu considero muitos desses adendos meio como cacos, que não acrescentam grande coisa ao filme. Assim mesmo eu gosto muito do filme até hoje. Acho bem interessante. O Zé era uma pessoa incrível. Foi outra pessoa que tenho grande admiração. Era uma inteligência, de uma rapidez. Era uma inteligência associada a uma cultura extensa e muito bem selecionada. Então, foi uma influência. Uma das grandes influências que eu tive foi o Zé Celso. Foi um prazer enorme trabalhar com ele. Fizemos muita coisa juntos e foi muito bom.
CC: E na década de 70 você não se afasta da fotografia, na minha pesquisa você fez exposições.
EBERT: No Oficina eu fotografei muito. A marca da oficina na época, que era uma estilização da bigorna, é uma fotografia que eu fiz quando a gente fez o espetáculo. A gente estava trabalhando num espetáculo, a gente chamava de “Espetáculo Novo”. Não tinha nome ainda. Depois virou Gracias, Señor. A gente fez um teste do Espetáculo Novo na Universidade de Brasília. E a Universidade de Brasília, como tudo em Brasília, tem aquelas passagens subterrâneas. E a gente fez no espetáculo uma caminhada que entrava numa daquelas passagens subterrâneas e eu, com a minha Leica pendurada no peito, vi – quando estava todo mundo saindo da passagem subterrânea, eu vi a bigorna do oficina desenhada pela sombra da passagem subterrânea e as pessoinhas todas ali. E aí fiz a marca do Oficina. Com essa foto. Fiz um alto contraste nela e tal, acertei a simetria direitinho, fiz uma bigorna gigante com as pessoinhas saindo dela.

A experiência com o Oficina foi muito boa, porque eu venci a minha timidez, consegui ser ator. E foi uma coisa que o Zé Celso insistiu. Eu entrei como ator no Oficina porque o João Marcos Fuentes, que fazia os personagens que depois eu fiz, ficou doente com hepatite. A gente estava em Brasília, se apresentando em Brasília, e ele teve uma hepatite com uma evolução muito rápida, e teve que ir para o Rio. E aí os personagens que ele fazia ficaram órfãos, não tinha ninguém para fazer. Então o Zé Celso me convenceu que eu devia fazer. Eu falei: “Mas, Zé, eu não tenho a menor experiência. Eu não sou tão extrovertido assim como pareço ser.”. E ele me convenceu e me preparou. Ele me deu as dicas, me deu o caminho das pedras e eu consegui. Consegui até um elogio do Yan Michalski (risos).
CC: E no Rei da Vela você também contribui com o roteiro?
EBERT: Também. O Rei da Vela foi uma aventura. A gente conseguiu uma coprodução com a Rádio e Televisão Italiana, a RAI. Então a RAI mandou uma Arriflex 16S auto blipada, um Nagra 3, equipamento de ponta da época. Não sei quantas latas de Ektachrome EF reversível. E o técnico de som, que era o italiano, Amedeo Riva. Então a gente recebeu tudo isso graças ao Rudá de Andrade, ele merece o crédito. Quem fez essa intermediação para colocar a RAI no projeto foi ele, que era diretor da Cinemateca na época. Ele fez a ponte, era amigo do Zé Celso. O Zé Celso montou os espetáculos todos do pai, pois o Rudá era filho do Oswald de Andrade, do qual o Zé Celso montou o Rei da Vela, O Homem e o Cavalo. Então tinha toda essa ligação e a gente conseguiu filmar aquela parte toda do primeiro ato no palco e do segundo ato na cidade do Rio de Janeiro, foi feito com essa produção da RAI.
CC: E no ano seguinte você já colabora com o Rogério no Nem é Tudo Verdade.
EBERT: É, foi muito divertido também. Foi aí que eu conheci o Arrigo [Barnabé] de quem eu sou amigo até hoje, porque depois, bem mais recentemente, já nos anos 90, eu passo a trabalhar muito com o pessoal de Londrina, com o Rodrigo Grota, esse grupo de Londrina, que está fazendo cinema até hoje. E o Arrigo é de Londrina, e eu volto a encontrar o Arrigo Barnabé anos depois e foi a hora da saudade. “Poxa, é você de novo!”. Eu o conhecia lá de trás, do Nem É Tudo Verdade. Voltei a encontrá-lo e a gente trabalhou junto. Eu fiz uma minissérie em que ele fazia um papel importante. E foi muito bom essa experiência do Nem É Tudo Verdade. Produção zero, não tinha, prá variar, mas tinha muita vontade de fazer e muitas ideias boas. Então foi um prazer. E poder ter reencontrado o Rogério no set. Eu teria ficado chateado se eu não tivesse voltado a trabalhar com ele. Porque eu já não tinha conseguido fazer A Mulher de Todos, já tinha ficado incomodado. Depois eu lamentei ter ido fazer o Sou Louca por Você e não ter feito A Mulher de Todos. Todo mundo comete os seus erros, os seus deslizes. E aí voltei a encontrar com o Rogério no set para fazer uma coisa que eu curti fazer, um projeto em que eu pesquisei para fazer uma fotografia parecida com a do Gregg Toland. O trabalho de pesquisa foi muito bacana. Os testes de laboratório que eu fiz, foram muito interessantes. Criar uma imagem para aquela ideia foi muito bacana.
CC: E você permanece como diretor de fotografia, mas com uma produção um pouco mais esporádica, não é?
EBERT: Eu não trabalho tanto quanto eu gostaria. É uma coisa que você vê no mundo inteiro, é uma coisa geracional. De repente, as pessoas começam a achar que você está velho, e que tem que chamar a gente mais nova. Mas eu sempre acabo sendo redescoberto, como por exemplo por esse pessoal de Londrina. Eu fiz um monte de coisas com eles. Não só com eles, mas com pessoas ligadas a eles. Um dos últimos filmes que eu fotografei é um documentário sobre um fotógrafo do interior de São Paulo, de Marília…
CC: Sebastião Leme.
EBERT: Sebastião Leme, o fotógrafo inventor. E eu conheci o pessoal de Marília, através do pessoal de Londrina, porque quem dirige o curta -primeiro fizeram curta sobre o Sebastião Leme, foi o Rodrigo Grota. Então é uma coisa que vai, sabe? Mas realmente, se você entrar no IMDB na minha página, eu estou com 86, 87 filmes registrados lá.
CC: E você volta com tudo em 2001, com Carrego Comigo.
EBERT: Isso. Tem um filme do Batista também que eu gosto muito. Você está com os anos aí na frente, é o filme Rua Seis, Sem Número. Que ano é?
CC: É 2002.
EBERT: 2002. É um filme que eu gosto muito, muito, muito. Por tudo. Sabe esses filmes que cada vez ficam mais atuais? É esse caso. Eu gosto muito do filme. Sou amigo do Batista até hoje. Outro dia mesmo a gente se encontrou, teve uma comemoração da Cinemateca, 75 anos da Cinemateca, uma coisa assim. Eu o encontrei, ele já está com 80 e tantos anos. Eu estou com 78, ele está com 80 e tantos anos. Está muito bem, desempenado. Ele agora está escrevendo romances. E eu dou muita aula, sou muito solicitado pela própria ABC, o Affonso Beato sempre me chama, para dar cursos e mentorias. Então amanhã mesmo, amanhã, eu tenho um encontro do curso chamado Olhar, Ver, Gravar, que eu vou dar na ABC. Então, eu acho também isso interessante, eu acho que todo mundo que acumulou a vida inteira uma experiência, como é o meu caso, tem o dever, de alguma forma, de compartilhar isso nessa fase final da vida, tem o dever de passar essa informação adiante, porque eu, felizmente, eu tenho uma memória razoável. Então ensinar para mim é muito bom, porque eu me lembro das coisas.
CC: É o melhor jeito de aprender: Ensinando.
EBERT: É muito isso. A grande motivação para você ensinar é que você aprende. Você pode dar o mesmo curso N vezes. Você sempre nesse processo de dar o curso, vai aprender, acrescentar alguma coisa. Então, eu continuo ensinando. Mas não corro atrás de filme. Quer dizer, quem me conhece acaba me chamando, por exemplo, como o pessoal de Londrina. Eles fizeram uma série agora – estava no ar até pouco tempo, chamada Libertárias. Sobre mulheres que criaram alguma coisa nova na história do Brasil. E nessa série, eles me chamaram para fazer só o “filé mignon”, a ficção, certo? Porque é aí que tá, eles acham, tirar o Ebert de casa para ele ficar filmando entrevista não vale a pena. Mas para ele fazer uma reconstrução de época dos anos 20, em preto e branco, ai vale a pena. Então eu virei meio, sabe, “eventos especiais”.
CC: O último filme que você deu de fotografia foi um filme infantil, o Teca e Tuti, não é?
EBERT: É, um filme de animação de bonecos onde eu fiz o light design todo do estúdio (que ajudei a projetar), para a animação dos bonecos, e fiz a parte final que é live action, com atores. Eu até faço um personagem. As minhas netas adoraram. Faço um vendedor de balões.
O Teca e Tuti foi um projeto que levou 10 anos para ser feito por causa de dinheiro e da animação de boneco, frame a frame, ser uma técnica complicada. Então eu não estive presente os 10 anos no estúdio, mas eu montei o estúdio, fiz o light design e acompanhei à distância. Um dos meus assistentes assumiu a direção de fotografia in loco. Fazia as modificações e eu ficava de consultor. Mandavam: “Nessa cena a gente fez um light design assim, tá legal pra você?”. Então foi uma relação muito boa, porque eu acompanhei-os durante os 10 anos que o filme levou pra ser feito. Fiquei muito emocionado na estreia aqui em São Paulo, no Belas Artes, onde estavam todas as pessoas que ajudaram a fazer o filme. E você conseguir fechar um projeto de 10 anos, é uma experiência. É uma coisa… E é um pessoal sensacional. Pessoal de São Carlos, o Diego Doimo, o Tiago Mal, o Eduardo Perdido e tanto outros maravilhosos.
CC: E você também tem uma atuação no teatro, eu vejo aqui que você é membro da Associação Brasileira de Autores Teatrais.
EBERT: É, por causa do Oficina. Como eu sou co-autor do Gracias Señor, não foi uma opção minha. Para você registrar uma peça teatral como co-autor, você precisa ser da SBAT. Então, eu digo que eu “entrei pela janela”. Eu sou um autor teatral de uma peça só. Mas é uma peça importante. Foi uma coisa importante na história do teatro. A minha experiência com Oficina foi muito boa para mim. Foi uma coisa que me tirou um pouco do meu conforto, do que eu vinha fazendo. Me jogou para ser ator. Até como pesquisador eu atuei lá. Então, foi bom. Foi uma experiência que hoje eu valorizo muito.
CC: E não só nas SBAT, você atua na ABC, na Cinemateca…
EBERT: Eu sempre fui ligado à organização das coisas. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um déficit muito grande de coordenação. Então, eu, na virada do século, em 1999, na virada para 2000, aproveitando o advento da internet, que era uma novidade, vi nela uma oportunidade de finalmente criar uma associação brasileira de cinematografia. Eu insisti muito nesse nome, tinha uns colegas que não queriam, “Essa palavra ‘cinematografia’ ninguém sabe o que é”, então eu dizia: “é uma chance para eles saberem o que que é, a gente colocando no nome eles vão saber o que é cinematografia”. Queriam usar duas palavras; diretor de fotografia, eu falei: “não, esquece isso. É cinematografia.“. E aí eu vi na internet a oportunidade de fazer uma associação que não fosse só física, que não fosse só uma sede, reuniões físicas, mas que fosse tocada virtualmente pela internet. E aí falei com o Affonso, meu amigo de longa data. O Affonso morava nos Estados Unidos e foi quem me ciceroneou quando eu fui comprar meu primeiro equipamento de câmera. Ele me ajudou muito. Me apresentou na Camera Mart, uma loja que nem existe mais hoje, e consegui um desconto. Eu tenho uma ligação muito grande com o Affonso. Eu fui para o Chile uma época (1972), para fazer um filme com ele, que depois não rolou. Aí acabei fazendo outras coisas lá no Chile. Mas a gente tem uma ligação muito forte. E ele topou. Ele falou: “É, Ebert, você tem razão. Agora é a hora de a gente fazer essa associação acontecer na internet.“. Aí pegamos o Renato Padovani , que era um diretor de fotografia também amigo nosso e que conhecia informática. Na época não era todo mundo na época que sabia programar. E o Renato sabia, então falou: “Ah, eu cuido dessa parte de colocar no ar o site”. Então, os três mosqueteiros, eu, Affonso e o Renato Padovani, fizemos a associação virtual. Contactamos os colegas mais próximos, eu falei com o Hugo Kovensky, com o Pedro Farkas, e com os colegas que eu tinha mais proximidade, e todos toparam, ficaram entusiasmados. E aí rapidamente a coisa foi crescendo e hoje é a maior associação ligada a profissionais de cinema no Brasil. A ABC deu certo, é uma coisa que deu certo. Eu me orgulho muito de ter sido fundador, e primeiro presidente também. Eu achava que tinha que ser o Affonso, mas o Afonso falava: “Não, você fala melhor, você é melhor na comunicação.” E foi uma iniciativa que até hoje vem conseguindo avanços na cinematografia brasileira. A própria Semana ABC, que acontece anualmente, sempre em maio, logo vai ter mais uma edição, ela contribuiu muito, porque sempre trouxe grandes figuras da cinematografia para participar, para falar e para dar cursos. Então, expandiu muito o horizonte da nossa cinematografia. Com todas as iniciativas que a gente faz, formamos muita gente. É uma coisa que eu me orgulho muito de ter participado da fundação da ABC. E está aí, 25 anos. Vamos ver se eles fazem alguma comemoração. E é isso. Eu não estou aposentado, não me considero aposentado. Fotógrafo, diretor de fotografia, não se aposenta, né? O Henri Alekan, que fez filmes mudos ainda na época do Jean Cocteau, foi ressuscitado pelo Wim Wenders e fez O Amigo Americano, e depois outros filmes do Wim Wenders, já com 82 anos. Basta alguém chamar. O Wim Wenders teve essa intuição genial. “Vamos chamar o cara, o cara está vivo.”. E a fotografia do filme é maravilhosa. Então eu não pretendo me aposentar, não. Eu estou aqui.
CC: Então você se define como diretor de fotografia?
EBERT: Diretor de fotografia é a minha atividade principal. Eu sou fotógrafo de still também, sempre fui. Tem um acervo extenso. Há pouco tempo tomei uma atitude libertária e
revolucionária. [risos] Abri os direitos autorais da minha obra fotográfica toda que está na internet. O cara só tem que citar a autoria, só tem que dar o crédito. Mas eu liberei os direitos e tem sido sensacional. Eu tenho visto fotos minhas publicadas nos países mais exóticos do mundo pelas coisas mais loucas. Associação de Cuidados Maternais na Indonésia usar uma foto sua! Devolvi para a humanidade. Tudo que eu aproveitei, tudo que eu aprendi na vida, com o mundo, com as pessoas do mundo que eram anônimas, que eu não sabia quem eram, eu resolvi dar de volta. Então, liberei os direitos da obra fotográfica toda, está tudo liberado.
Acho que é isso. Foi um prazer saber que tem gente jovem interessada em cinema brasileiro. O cinema brasileiro não vai acabar nunca. Vai mudar a técnica, o suporte, mas a gente vai estar aqui sempre. Até hoje ele só tem crescido. De quando eu comecei a fazer nos anos 60 para hoje, foi um universo… Nessa época todo mundo se conhecia. Dava para fazer uma reunião dentro de um ônibus. Então foi um uma história de sucesso no cinema brasileiro. Lógico, a assimetria é uma característica de qualquer fenômeno que não seja restrito a um grupo pequeno. Todo grupo grande é assimétrico. Mas eu acho que a gente está num bom caminho. Eu tenho visto coisas muito boas, não vi ainda o filme do Walter [Salles], mas tenho ouvido críticas muito boas. Mas tenho visto muitos filmes brasileiros recentes bons, muito bons. Você viu um filme chamado Carvão?
CC: Sim, sim, da Carolina Markowitz. Muito bom, né? Incrível. Belo filme.
EBERT: E está aí. Eu, como ensino, dou aula, dou mentoria, tenho esse prazer de ver meus ex-alunos fazendo filmes, e isso é muito bom. Você vê que você está levando o processo adiante. Você está passando aquele conhecimento todo que você acumulou, para as outras pessoas que vão acrescentando a parte delas. Então, é feito uma bola de neve. Você vai vendo aquilo sempre aumentando, depurando, ficando mais focado, mais objetivo. Isso é muito bom. Eu acho que todas as pessoas que chegam nessa fase da vida deviam repartir o seu conhecimento. Devolver um pouco, porque aí que está: a maior parte do que eu adquiri dessa experiência que eu tenho. Eu não paguei por ela veio junto com os trabalhos que eu fiz, onde eu estava pelo contrário, recebendo para trabalhar, e isso foi sempre um extra, que vinha junto. Essa experiência, esse contato humano, essas dicas, o cara que te indica, “olha o livro tal, você leu o livro tal? você conhece o trabalho do fulano de tal”? Isso não tem preço. Essa convivência, essa vivência que você adquire ao longo da vida profissional, isso não tem preço. E eu acho que é o dever de todo profissional que chega nessa fase a carreira, divulgar um pouco tudo isso, dar conhecimento disso através, até mesmo do que nós estamos fazendo aqui, gora. Vira e mexe aparece um jovem, historiador ou estudante de cinema, que quer conversar. E eu sempre atendo porque eu acho importante.
CC: É um prazer, um prazer imenso.
EBERT: O conhecimento tem que seguir, né? A coisa tem que andar. Não pode ficar como uma coisa fechada dentro da sua cabeça.
CC: Muito obrigado.
EBERT: Conte comigo. Foi um grande prazer.
